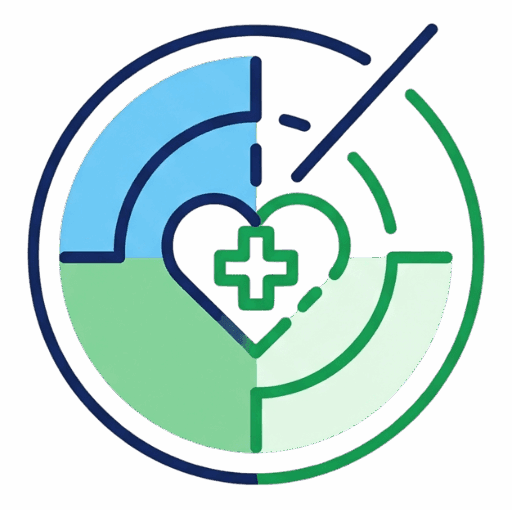por Daiane Batista
O Brasil, assim como a América Latina, é extremamente desigual. Poucos concentram muito e muitos possuem pouco. Essa distribuição desigual da riqueza afeta diretamente a saúde, observa o médico epidemiologista Maurício Barreto, professor emérito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e coordenador científico do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), nesta entrevista ao site do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Antonio Ivo de Carvalho (CEE-Fiocruz). “As desigualdades não apenas geram, como também agravam as condições de saúde de qualquer população”, aponta.
Maurício fala sobre a parceria realizada com a Universidade de Glasgow, cujas linhas de pesquisa são semelhantes às do Cidacs, incluindo o uso de grandes bases de dados, comenta os achados do livro recém-lançado Desigualdades sociais e saúde: Desigualdades sociais e saúde: abordagens inovadoras para avaliar seus efeitos na população brasileira (do qual é um dos autores, ao lado de Maria Yury Ichihara, Estela Aquino e Adalton Fonseca, com colaboração de outros 50 pesquisadores) e reflete sobre os desafios e as possibilidades do uso em larga escala de dados administrativos para a construção de um SUS mais equitativo.
Confira a entrevista abaixo.
Como surgiu a parceria entre o Cidacs/Fiocruz Bahia e a Universidade de Glasgow e de que forma o tema das iniquidades atravessa a instituição escocesa? Como essa colaboração contribuiu para a realização do livro Desigualdades sociais e saúde?
Maurício Barreto: Quando iniciamos o Cidacs nosso foco científico era estudar o efeito das políticas sociais na pobreza e nas desigualdades. Esse foi o pano de fundo para a criação do centro. O Cidacs envolve o uso de grandes bases de dados e a vinculação dessas bases. Criamos estruturas únicas, como a coorte de 100 milhões de brasileiros, que hoje tem cerca de 14 milhões de pessoas, e a coorte de nascimentos, com aproximadamente 30 milhões de registros. Essas coortes foram formadas a partir da vinculação de diferentes bases públicas, como o Cadastro Único, o Sistema de Mortalidade, o Sistema de Internações Hospitalares e dados do Bolsa Família, utilizando softwares adequados, dentro de um sistema altamente seguro, garantindo a confidencialidade e a proteção das informações. Isso nos permite responder a questões mais complexas do que quando trabalhamos com bases isoladas.
A aproximação com Glasgow ocorreu logo no início do Cidacs, porque eles trabalham em linhas semelhantes às nossas, estudos sobre desigualdades e avaliação de políticas, sobretudo na saúde, também com uso de grandes bases de dados e linkage [relativo à vinculação de dados armazenados em diferentes bases]. Tivemos dois grandes projetos financiados pelo National Institute for Health Research (NIHR), instituição ligada ao sistema nacional de saúde do Reino Unido. O primeiro resultou no livro e o segundo, em andamento, envolve mais de sessenta pesquisadores divididos em dez subáreas. Parte da produção saiu em artigos científicos, mas decidimos reunir um recorte em formato de livro, complementando as demais publicações.
Que aspectos do livro recém-lançado ajudam a compreender os impactos das desigualdades sociais na saúde da população brasileira?
Maurício Barreto: O Brasil, assim como a América Latina, é extremamente desigual. Poucos concentram muito e muitos possuem pouco. Essa distribuição desigual da riqueza afeta diretamente a saúde. Sociedades mais desiguais apresentam piores indicadores de saúde, o que já é reconhecido desde o século XIX. No Brasil, o SUS tem como princípio a equidade, e políticas mais distributivas adotadas principalmente neste século buscam equidade. Isso porque está claro que as desigualdades não apenas geram, como também agravam as condições de saúde de qualquer população.
O livro traz estudos sobre programas como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, mostrando como contribuem para amenizar desigualdades e, consequentemente, melhorar a saúde da população. Mesmo pequenas reduções da pobreza trazem efeitos importantes. Outra contribuição é o Índice Brasileiro de Privação, desenvolvido a partir do Censo de 2010. Esse índice permite acompanhar melhor as desigualdades no país, alinhado ao princípio de equidade do SUS. São elementos centrais reunidos no livro.
No livro, vocês usam o termo iniquidade. Existe diferença em relação à desigualdade?
Maurício Barreto: Sim. A desigualdade refere-se a diferenças entre grupos, por exemplo, níveis distintos de saúde. Algumas dessas diferenças são explicadas por fatores contextuais e não são consideradas injustas. Já a iniquidade envolve a dimensão da injustiça. Portanto, medimos desigualdades, mas focamos nas que são injustas e têm maior impacto.
Por que é fundamental adotar uma abordagem interdisciplinar para compreender as desigualdades em saúde?
Maurício Barreto: Os determinantes sociais geram desigualdades que afetam a saúde. Doenças são mais frequentes em grupos pobres e vulnerabilizados. Para entender isso é preciso um trabalho naturalmente interdisciplinar. O uso de grandes bases de dados exige especialistas em computação e manejo desses dados, além de estatísticos e matemáticos. Também são necessários profissionais capazes de formular hipóteses e interpretar resultados: epidemiologistas, economistas, cientistas sociais, entre outros. Questões complexas como essas não podem ser explicadas por uma única disciplina, exigem a combinação de várias áreas para serem compreendidas de forma adequada.
Poderia destacar alguns dos impactos que o livro traz sobre os programas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida nos indicadores de saúde da população?
Maurício Barreto: Sobre o Bolsa Família, temos hoje no Cidacs um conjunto imenso de dados, produzidos tanto por pesquisadores do centro quanto por outros que utilizaram nossas bases. Os resultados são extremamente positivos.
Temos pelo menos 14 grandes estudos que mostram efeitos em diferentes áreas. Por exemplo, impactos na redução do suicídio, em doenças infecciosas importantes como hanseníase, tuberculose e HIV, em doenças cardiovasculares, além da mortalidade infantil e materna, desnutrição, hospitalizações por uso de substâncias psicoativas, alcoolismo e outras drogas. Ou seja, uma gama imensa de efeitos do Bolsa Família sobre a saúde, com documentação muito rica. Parte disso aparece no livro, mas há ainda mais evidências em artigos publicados, que mostram como a redução da pobreza no Brasil impactou e contribuiu para transformações na saúde da população.
Quais as principais contribuições do projeto para o debate global sobre determinantes sociais da saúde?
Maurício Barreto: Os estudos nessa área são realizados em países específicos, mas há uma preocupação em construir um conhecimento maior sobre a saúde da população em geral e ampliar as reflexões globais sobre desigualdade, determinantes sociais e seus efeitos na saúde. Tivemos, há alguns dias, por exemplo, na Uerj, o XVIII Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva, promovido pela Alames (Associação Latino-Americana de Medicina Social), que tratou justamente das desigualdades sociais na América Latina.
Com o livro, tivemos a oportunidade de trabalhar esse aspecto também. Embora a reflexão central seja sobre o Brasil, estamos em articulação com o grupo de Glasgow, outros grupos no Reino Unido e também no Equador. São parcerias que permitem pensar a questão das desigualdades no chamado Sul Global, onde existem problemas muitas vezes menos investigados do que aqueles do Norte, como Europa e Estados Unidos.
Construir esse conhecimento a partir do Sul implica esforços em eventos internacionais, congressos e redes de pesquisa para colocar o problema numa perspectiva global. Esse é um desafio de qualquer campo científico, ultrapassar as fronteiras do que você investigou e pensar como aquilo se situa em contextos mais amplos.
Esse movimento é o que motiva a pesquisa acadêmica e a inter-relação entre pesquisadores. O livro é um exemplo disso, embora use majoritariamente dados e problemas do Brasil, está permeado por debates internacionais. Essa interação com outros atores e tradições de pesquisa ajuda a ampliar horizontes e enriquecer o campo.
Na descrição do livro, fala-se em metodologias inovadoras a partir da exploração de grandes volumes de dados administrativos que passaram por processos de vinculação ou data linkage. Pode explicar como funciona essa metodologia e sua importância? E quais seriam os impactos do data linkage nas políticas públicas brasileiras e latino-americanas?
Maurício Barreto: Linkage significa vinculação. A ideia em si não é nova, mas o uso em larga escala é recente, pois exige computação de alta velocidade e o desenvolvimento de algoritmos específicos. Basicamente, funciona assim: em uma pesquisa tradicional, você forma uma coorte (um grupo de indivíduos) e coleta dados ao longo do tempo. Já com o data linkage, você aproveita os registros administrativos já existentes. Desde o nascimento até a morte, cada pessoa gera muitos registros: nascimento, vacinação, escolaridade, hospitalizações, óbito, entre outros. Em vez de coletar novos dados, você vincula essas informações retrospectivamente.
Por exemplo, usamos o Cadastro Único, em que o indivíduo se registra. Alguns desses registrados acessam políticas sociais, como o Bolsa Família ou o Minha Casa, Minha Vida, cujas informações estão em outras bases. Ao vincular os dados do Bolsa Família ao Cadastro Único, conseguimos identificar quem recebeu o benefício. Também é possível cruzar essas informações com dados de nascimento, saúde, hospitalizações, doenças ou óbitos. Isso abre uma enorme possibilidade de estudos. Temos, por exemplo, avaliado o impacto do Bolsa Família sobre a mortalidade e a incidência de doenças. Isso só é possível graças à estrutura do linkage. A grande vantagem é que, mesmo exigindo uma estrutura computacional e especialistas para desenvolver os algoritmos, o data linkage permite investigar fenômenos que os métodos científicos tradicionais muitas vezes não alcançam. Ele tem um potencial imenso.
Em relação a dados internacionais, o linkage enfrenta várias questões legais. No caso dos brasileiros, ele é feito aqui no país. Na Inglaterra, essa prática é bastante desenvolvida. Há muitos estudos sendo realizados com grandes volumes de dados (20, 50 milhões de pessoas) o que tem permitido avanços importantes, apesar de alguns desafios. A grande vantagem dessa abordagem é justamente a possibilidade de investigar questões que os estudos tradicionais, baseados em coleta primária de dados, não conseguem alcançar. Com o linkage, você pode testar hipóteses e responder perguntas complexas em larga escala. Essa é a principal força dessa metodologia, e é exatamente o que fazemos aqui no Cidacs, vinculação de dados em grande escala para gerar conhecimento relevante.
Quais os principais desafios enfrentados na utilização de grandes bases de dados administrativos em estudos sobre saúde e desigualdade?
Maurício Barreto: Existem vários desafios. Alguns são operacionais, exigindo recursos computacionais e uma governança de dados rigorosa. É preciso garantir um sistema hermético, que proteja informações pessoais e assegure a privacidade individual, como prevê a lei. Outro ponto é o acesso às bases. O Brasil tem construído registros de boa qualidade, sobretudo na área da saúde. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), por exemplo, melhorou muito. No Cidacs, usamos os dados e eles são aceitos por revistas científicas de alto impacto como fonte válida, isso mostra a qualidade e a relevância social dos dados que produzimos. Mas ainda há problemas. Não existem políticas claras de utilização e acesso a esses dados. Apesar de a LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados] prever explicitamente o uso para pesquisa científica, desde que respeitados os princípios de privacidade, sob supervisão ética da Conep [Comissão Nacional de Ética em Pesquisa], na prática, o acesso depende de negociações com os controladores, como o Ministério da Saúde, mas nem sempre essas bases são acessíveis.
Fala-se que o Ministério desenvolverá políticas claras para regulamentar esse processo, mas isso ainda não foi estabelecido. Esses dados são preciosos e guardam informações sensíveis, e políticas mais claras poderiam ampliar enormemente o uso dessas bases para pesquisas no SUS, permitindo compreender questões de saúde da população brasileira e avaliar o potencial de equidade do sistema.
Nossas análises mostram, por exemplo, que políticas sociais e de saúde como a Atenção Primária contribuem para melhorar as condições de saúde e reduzir desigualdades. São políticas claramente pró-equidade. Por isso, acredito que o acesso coordenado a esses dados pode gerar imensas contribuições como entender dilemas e grandes problemas de saúde, avaliar benefícios de políticas, projetar cenários futuros e produzir conhecimentos essenciais para o bem comum.
Clique na imagem e acesse o livro.
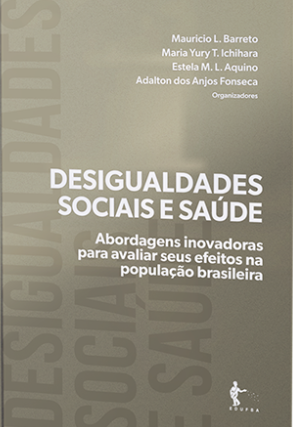
Leia também: